Fichas trocadas
No Correio da Manhã de ontem, a jornalista Ana Maria Ribeiro publicou uma peça sobre Michael Jackson. Eis um excerto: «Antecipa-se o lançamento de uma sucessão de discos, livros e DVD da sua obra, bem como a proliferação de toda a espécie de ‘memorabilia’ que evoque a sua passagem meteórica pelo mundo dos vivos» («Família está rica apesar das dívidas», Ana Maria Ribeiro, Correio da Manhã, 29.06.2009, p. 37). «Passagem meteórica»? Michael Jackson viveu cinquenta anos! Bem, Blaise Pascal morreu com 39 anos. Eu sei, épocas diferentes. Mas ainda assim, só um fã afirmaria o que escreveu a jornalista. Num texto de apoio, ficamos ainda a saber que a ama dos filhos de Michael Jackson lhe fez várias «limpezas ao estômago» (talvez com uma esfregona): «Grace Rwaramba, que trabalhou como ama para Jackson, disse que o cantor abusava muito dos medicamentos e que lhe fez várias limpezas ao estômago.» Vejam lá agora não escrevam lavagem étnica… E mais (vou-me já embora), admitirá o abuso gradações? Duvido.
No Correio da Manhã de ontem, a jornalista Ana Maria Ribeiro publicou uma peça sobre Michael Jackson. Eis um excerto: «Antecipa-se o lançamento de uma sucessão de discos, livros e DVD da sua obra, bem como a proliferação de toda a espécie de ‘memorabilia’ que evoque a sua passagem meteórica pelo mundo dos vivos» («Família está rica apesar das dívidas», Ana Maria Ribeiro, Correio da Manhã, 29.06.2009, p. 37). «Passagem meteórica»? Michael Jackson viveu cinquenta anos! Bem, Blaise Pascal morreu com 39 anos. Eu sei, épocas diferentes. Mas ainda assim, só um fã afirmaria o que escreveu a jornalista. Num texto de apoio, ficamos ainda a saber que a ama dos filhos de Michael Jackson lhe fez várias «limpezas ao estômago» (talvez com uma esfregona): «Grace Rwaramba, que trabalhou como ama para Jackson, disse que o cantor abusava muito dos medicamentos e que lhe fez várias limpezas ao estômago.» Vejam lá agora não escrevam lavagem étnica… E mais (vou-me já embora), admitirá o abuso gradações? Duvido.
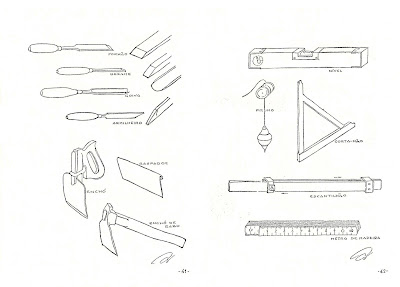.jpg)





.jpg)

.jpg)
