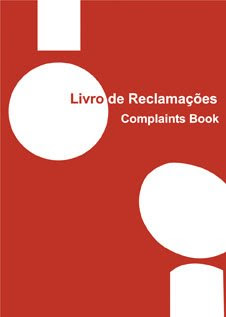No entanto, há
E a propósito: medicamentos extrabula ou medicamentos extrabulas? Algumas gramáticas escolares afirmam que todos os adjectivos variam em número e grau, mas alguns são invariáveis em género. Não é verdade. Há, por muito controversa que possa ser a sua existência, adjectivos invariáveis em número. E, no pouco uso que temos deste adjectivo, extrabula parece enquadrar-se na categoria. Não nos esqueçamos de que, nos adjectivos compostos por justaposição, quando o último elemento é um nome, permanecem ambos invariáveis: cavalo puro-sangue/cavalos puro-sangue. Também em relação à flexão dos adjectivos compostos designativos de cores, se um deles for um substantivo, nenhum elemento varia — vestidos amarelo-canário; saias verde-mar; blusas azul-petróleo; chapéus verde-alface; paredes azul-turquesa; papéis branco-marfim… —, mesmo que só surja o nome do animal ou coisa: calções rosa, sofás marfim. Embora eu não concorde em relação a todos*, e não estou só, alguns outros adjectivos, que não meramente os relativos às cores, são classificados como invariáveis, como extra, extrabarreiras, ultravioleta… Já infravermelho, por exemplo, admite feminino e plural. Para quem defende estas excepções, a argumentação usada é a seguinte: infravermelho varia porque o adjectivo «vermelho» varia sempre: cartão vermelho/cartões vermelhos; saia vermelha/saias vermelhas. Logo, raio infravermelho/raios infravermelhos. Em relação a ultravioleta, já é, propugnam, diferente: como substantivo adjectivado, «violeta» também não varia: batôn violeta/batôns violeta; blusa violeta/blusas violeta. Logo, para os defensores desta opinião, raio ultravioleta/raios ultravioleta. E, finalmente, quando se indica a cor com a expressão cor de, expressa ou subentendida, também não se faz a flexão do qualificador: paredes (cor de) gelo, camisas (cor de) creme, saias (cor de) vinho, sapatos (cor de) violeta.
* O que eu e outros dizemos é que extra é a forma reduzida do adjectivo «extraordinário» (e já abordei aqui várias vezes as formas reduzidas de nomes, como metro, porno…), e por isso, o prefixo passou a ter também o sentido do adjectivo. Nesse caso, a sua flexão é normal, como a de qualquer outro adjectivo: «hora extra», «horas extras». É o que, consciente ou inconscientemente, leva, com o meu aplauso, alguns jornalistas a flexionarem o vocábulo: «Ministro proíbe gastos extras às direcções dos hospitais» (Público, 20.08.2006, p. 26). «Os gastos extras, para saídas, por exemplo, avaliam-se um a um, para que se aprenda a dar valor ao dinheiro e à poupança» («Crise não afecta famílias habituadas a poupar muito», Rita Carvalho, Diário de Notícias, 23.05.2009, p. 18).
E a propósito: medicamentos extrabula ou medicamentos extrabulas? Algumas gramáticas escolares afirmam que todos os adjectivos variam em número e grau, mas alguns são invariáveis em género. Não é verdade. Há, por muito controversa que possa ser a sua existência, adjectivos invariáveis em número. E, no pouco uso que temos deste adjectivo, extrabula parece enquadrar-se na categoria. Não nos esqueçamos de que, nos adjectivos compostos por justaposição, quando o último elemento é um nome, permanecem ambos invariáveis: cavalo puro-sangue/cavalos puro-sangue. Também em relação à flexão dos adjectivos compostos designativos de cores, se um deles for um substantivo, nenhum elemento varia — vestidos amarelo-canário; saias verde-mar; blusas azul-petróleo; chapéus verde-alface; paredes azul-turquesa; papéis branco-marfim… —, mesmo que só surja o nome do animal ou coisa: calções rosa, sofás marfim. Embora eu não concorde em relação a todos*, e não estou só, alguns outros adjectivos, que não meramente os relativos às cores, são classificados como invariáveis, como extra, extrabarreiras, ultravioleta… Já infravermelho, por exemplo, admite feminino e plural. Para quem defende estas excepções, a argumentação usada é a seguinte: infravermelho varia porque o adjectivo «vermelho» varia sempre: cartão vermelho/cartões vermelhos; saia vermelha/saias vermelhas. Logo, raio infravermelho/raios infravermelhos. Em relação a ultravioleta, já é, propugnam, diferente: como substantivo adjectivado, «violeta» também não varia: batôn violeta/batôns violeta; blusa violeta/blusas violeta. Logo, para os defensores desta opinião, raio ultravioleta/raios ultravioleta. E, finalmente, quando se indica a cor com a expressão cor de, expressa ou subentendida, também não se faz a flexão do qualificador: paredes (cor de) gelo, camisas (cor de) creme, saias (cor de) vinho, sapatos (cor de) violeta.
* O que eu e outros dizemos é que extra é a forma reduzida do adjectivo «extraordinário» (e já abordei aqui várias vezes as formas reduzidas de nomes, como metro, porno…), e por isso, o prefixo passou a ter também o sentido do adjectivo. Nesse caso, a sua flexão é normal, como a de qualquer outro adjectivo: «hora extra», «horas extras». É o que, consciente ou inconscientemente, leva, com o meu aplauso, alguns jornalistas a flexionarem o vocábulo: «Ministro proíbe gastos extras às direcções dos hospitais» (Público, 20.08.2006, p. 26). «Os gastos extras, para saídas, por exemplo, avaliam-se um a um, para que se aprenda a dar valor ao dinheiro e à poupança» («Crise não afecta famílias habituadas a poupar muito», Rita Carvalho, Diário de Notícias, 23.05.2009, p. 18).